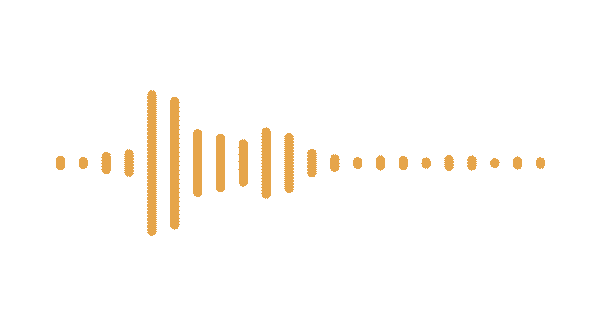No fim dos anos 60, Ipanema vivia uma agitação cultural única na história do Rio.
As movimentações intelectuais e artísticas ressoavam em toda a cidade.
E era dentro dos bares que boa parte disso acontecia:
ali surgiam ideias de livros, jornais, músicas e peças de teatro.
Nasceram ali também articulações importantes pra enfrentar a ditadura militar.
As redondezas da praça General Osório, em Ipanema, são uma boa síntese desse espírito boêmio e também contestador da época: era rodeada de bares, teatro, cinema… E até a praia fez história.
Um dos pontos mais concorridos do bairro nesse tempo era o Bar Jangadeiro, que fica na Visconde de Pirajá, a principal rua de Ipanema que atravessa o bairro todinho, e só vai mudar de nome lá no Leblon.
Ele foi inaugurado em 1935 como o Bar Rhenania. O nome alemão gerou polêmica na época da ascensão do nazismo, e o bar foi alvo de protestos e destruição.
Ainda nos anos 40, o estabelecimento passou para as mãos de outro dono, que mudou o nome para Jangadeiro.
Lá no contexto da Segunda Guerra Mundial. Tem um corte tremendo, porque assim não era muito bem visto ter um bar associado àquela a dimensão da Alemanha nazista. Então há uma subversão aí nesse sentido.
Essa é a Andrea Queiroz, historiadora e diretora da Divisão de Memória Institucional da UFRJ.
O bar tem quase o mesmo nome de outra rua que dá na Praça General Osório, a Rua dos Jangadeiros.
É uma homenagem ao grupo de cearenses que navegaram até o Rio de Janeiro para reivindicar seus direitos trabalhistas. Bem diferente de Rhenania.
Você rompe com esse, com esse passado. E transmuta esse passado com um novo nome que também está ligado a essa questão de luta social
Esse movimento dos Jangadeiros aconteceu quando o Rio ainda era a capital do Brasil e vivia sob a ditadura do Estado Novo, comandada por Getúlio Vargas.
Uma reforma trabalhista estava sendo discutida, e eles viajaram 2700 quilômetros em alto-mar para exigir que os pescadores fossem lembrados.
O bar homenageava a mobilização popular, mas ficou conhecido mesmo por ser o ponto de encontro da intelectualidade carioca.
Os músicos Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Roberto Menescal passaram por lá.
Os escritores Rubem Braga, Millôr Fernandes e Fernando Sabino também.
Já no fimzinho dos anos 60, o Jangadeiro passou a ser também a ser um dos bares preferidos do pessoal do Pasquim, um jornal satírico reconhecido pelo diálogo com a contracultura e pela contestação à ditadura militar.
Então, a minha vida passou em vários momentos pelos bares ali, por aquele centro, aquele quadrilátero ali, que era importante culturalmente
Essa é a Martha Alencar, jornalista e cineasta, que trabalhou no Pasquim nos anos 70. E ela também frequentou bastante as redondezas da Praça nesses anos.
Era o espírito da época. O espírito da contestação, da brincadeira, dá uma certa uma alegria de viver e estar provocando, provocar coisas. E era mais essa agitação cultural que havia, quer dizer, o Teatro de Bolso e as pessoas que moravam ali.
Esse Teatro de Bolso que a Martha falou era o Teatro Aurimar Rocha, que de tão pequeno ganhou esse apelido – e que foi imenso na sua importância cultural.
Naquele palco, Leila Diniz fez sua estreia no teatro.
E a atriz, como é bem sabido, é uma das protagonistas desse romance que foi o Rio nos anos 60 e 70.
A Leila Diniz ficou muito conhecida pelos filmes e novelas que ela fez na Globo, na Record e na, já extinta, TV Tupi.
Achava o cinema “a glória” e fazer teatro “um saco”, como disse numa entrevista histórica pro Pasquim em 69.
A atriz desafiava a caretice na ditadura e não tinha medo de falar o que pensava.
As dezenas de palavrões que ela disse nessa entrevista e as declarações abertas sobre a vida amorosa e sexual repercutiram demais na época.
Se esse tipo de coisa dá audiência hoje, imagina naquela época.
Não demorou muito pra ela virar inimiga pública número um da ditadura.
E a reação não foi branda: veio em forma de decreto, número mil e setenta e sete, também conhecido como “Decreto Leila Diniz”, que instituiu a censura prévia no país.
Foi uma pessoa muito importante para nós. Nós não só as amigas, para as mulheres, para as mulheres brasileiras.
Essa é a atriz Vera Valdez, que foi muito amiga de Leila Diniz.
A Leila... ela representava através do deboche, porque ela debochava realmente de praticamente tudo. Mas com significativo muito de mulher que quer se liberar. Que quer... que quer isso. Que grita por liberdade. Liberdade de expressão, de ser, de querer, de amar. Era uma grande amiga, grande amiga.
Tem um episódio clássico que traduz bem a importância do espírito contestador que a Vera descreve.
Foi quando a Leila Diniz apareceu de biquíni, na praia, grávida de cinco meses.
Chocou a opinião pública. Foi uma avalanche de críticas. Hoje é um símbolo da libertação das mulheres.
Leila Diniz foi impedida de trabalhar como atriz e abriu com a Vera uma butique na Praça General Osório, a Loja 12.
Que nós tivemos durante praticamente toda a gravidez de Leila. E pós-gravidez de Leila, até a morte dela, do qual aí, eu também não consegui ficar, porque me lembrava muito dela, minha mãe tomou conta. E depois fechamos essa loja.
Leila Diniz morreu cedo, aos 27 anos, num acidente de avião. Tinha ido a um festival de cinema na Austrália e ia estender a viagem, mas decidiu voltar mais cedo por saudades da filha.
Várias, várias, várias memórias, querida, várias, várias, recordações. As coisas muito alegres, muito alegre mesmo. E….Praia, praia, praia. As noites - normalmente ela não era muito de bar - acho que ela já ia namorar mesmo, já preferia essas coisas. Onde tinha mar, Leila estava. Então nós íamos muito no Posto Nove que dava na rua onde nós... onde a Leila morava comigo
Além do Posto Nove, a Vera contou que ia muito nas Dunas de Gal.
Eu frequentei muito, mas Leila não, porque ela ficava na loja. As dunas... as Dunas do Barato. Depois é que virou as dunas da Gal. Mais em texto de jornalismo. Mas para nós, de Ipanema, ali era as Dunas do Barato. Porque ali se fumava de mão em mão.
Com isso, a gente chega ao último ponto deste circuito do desbunde do Rio de Janeiro nos anos 70: o pôr do sol nas Dunas do Barato. Ou nas Dunas da Gal.
O nome já dá uma pista de outra mulher forte que marcou a história do Rio de Janeiro: a cantora Gal Costa.
A faixa de areia na altura da Rua Teixeira de Melo, em Ipanema, era onde a Gal e sua trupe pegavam praia. Por isso ganhou esse apelido.
No início dos anos 70, ela era o centro das atenções, em cartaz no Rio com o show 'Gal a Todo vapor'. O disco virou um marco da geração, que via crescer o movimento tropicalista e também a contracultura.
Gal Costa representava o apogeu do desbunde.
E as dunas eram o seu palco.
A história de como essa parte da praia entrou na moda é curiosa. No início dos anos 70, um emissário submarino começou a ser construído ali.
E para viabilizar a construção, a empresa responsável fez um píer que avançava sobre o mar, cercado por bancos de areia artificiais.
Isso mudou a paisagem da praia para sempre, e também a sua história.
A área das Dunas de Gal, ou Dunas do Barato, como também era conhecida, em tese, era reservada aos operários envolvidos na construção.
Mas logo foi achada pelos surfistas.
E aquilo ali está sendo montado, não com a ideia de formar ondas, mas acaba formando ondas e vai ser, claro, aproveitado pela juventude daquele momento. E aí não vai ser só um espaço em que a juventude vai usar para pegar suas ondas. Mas é um espaço em que a juventude está ali, combatendo aquela moral e os bons costumes.
E depois, como você já deve adivinhar, virou um ponto de encontro de artistas, intelectuais e de todo mundo que gostava de aproveitar esse oásis de paz e amor na truculenta capital carioca sob o comando dos militares.
O pier acumulou muitas histórias até ser desfeito.
Depois da morte de Gal Costa, em 2022, a área virou Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade.
Uma homenagem à cantora baiana tão ligada ao Rio e aos que construíram, junto com ela, esses capítulos rebeldes e transformadores da história da cidade.